AS ENTREVISTAS DA PARIS REVIEW
Escritores e amantes da literatura devem estar alterando seus testamentos para incluir neles a Paris Review. Explico o exagero. A expressiva revista francesa de literatura acaba de lançar uma coletânea com suas melhores entrevistas desde 1956. Passaram por lá nada menos que Hemingway, Paul Auster, Faulkner, Capote, Borges, McEwan e outros.
Difícil escrever sobre esses mitos e suas ideias. O melhor mesmo, é deixá-los com a palavra. Abaixo trechos de duas das entrevistas que achei mais interessantes.
Ernest Hemingway – entrevista de 1958
Entrevistador – É necessário estabilidade emocional para escrever bem? Uma vez o senhor me disse que só conseguia escrever bem se estivesse apaixonado. Pode falar um pouco mais sobre isso?
Hemingway – Que pergunta! Nota dez para a tentativa! Você pode escrever em qualquer ocasião se as pessoas o deixarem sozinho e não o interromperem. Ou, melhor, se você for bastante implacável a respeito. Mas a melhor escrita se dá quando você está apaixonado. Se não se importa, prefiro não falar mais sobre isso.
Entrevistador – Que exercício intelectual o senhor consideraria o melhor para o aspirante a escritor?
Hemingway – Digamos que ele deva enforcar-se, por descobrir que escrever bem é difícil a ponto de ser impossível. Então ele deve ser retirado da forca impiedosamente, e forçado por si próprio a escrever o melhor que possa para o resto de sua vida. Pelo menos terá, como ponto de partida, a história do enforcamento.
Entrevistador – Por fim, uma pergunta fundamental: Como um escritor criativo, qual lhe parece ser a função de sua arte? Por que a representação de um fato, em vez do próprio fato?
Hemingway – Para que quebrar a cabeça com isso? Das coisas que aconteceram e das coisas tais como existem e de todas as coisas que você sabe, mais as que não pode saber, faz-se algo por meio da sua invenção, algo que não é uma representação, ma uma coisa inteiramente nova, mais verdadeira do que qualquer outra coisa verdadeira e viva, algo que você faz viver e ao qual confere, se o fizer bem-feito, a imortalidade, É para isso que se escreve, e por nenhuma outra razão que se conheça. Mas e quanto a todas as razões que ninguém conhece?
Ian McEwan – entrevista de 2002
Entrevistador – Na introdução de O jogo da imitação, o senhor diz sentir inveja dos cineastas, sempre a caminho de reuniões urgentes, vivendo entre um táxi e outro.
McEwan – Quando, semana após semana, não se faz mais nada além de conviver com fantasmas, saindo da mesa de trabalho para a cama e de volta ao trabalho, sente-se falta de um tipo de trabalho que envolva pessoas. Mas, à medida que fui envelhecendo, me afeiçoei aos fantasmas e perdi um pouco o interesse em trabalhar com gente.
Entrevistador – A criança no tempo começa com o rapto de uma criança – uma daquelas passagens literárias sobre mudança de vida que se tornam marca registrada.
McEwan – Sim. Ainda estava interessado em escrever sobre os limites da experiência humana. Mas agora começava a tomar os personagens mais a sério. A ideia era que esses momentos de crise servissem para explorar e testar o caráter deles. Como se pode superar uma experiência extrema, ou falhar nessa tentativa, que qualidades morais e dilemas são trazidos à tona, como viver com as consequências de nossas decisões, as formas que a memória tem de nos atormentar, como o tempo nos afeta, de que recursos precisamos nos valer...
Em 1986, participei do Festival Literário de Adelaide, onde fiz uma leitura da cena de A criança no tempo em que a menina é raptada no supermercado. Tinha terminado a primeira versão naquela semana e queria experimentá-la. Assim que acabei de ler, Robert Stone se levantou e começou um discurso inflamado. Parecia realmente estar falando com o coração. Ele disse:
“Por que fazemos isso? Por que nós, escritores, fazemos isso, e por que é isso também o que os leitores querem? Por que procuramos dentro de nós mesmo aquilo de pior em que se pode pensar? A literatura, especialmente a literatura contemporânea, está sempre em busca da mais terrível das histórias.”
Até hoje não tenho resposta clara para isso. Recorro sempre a essa noção do teste ou da investigação de caráter e de nossa natureza moral. Conforme a famosa pergunta de James: o que é um incidente senão a ilustração de um caráter? Talvez usemos essas histórias terríveis para medir o alcance de nossa própria moral. E talvez precisemos liberar nossos medos no terreno seguro da imaginação como uma forma de exorcismo esperançoso.
Entrevistador – Em Amor para sempre, o mal aparece na forma de uma doença mental. Que parte do romance saiu antes? Foi a da tentativa de assassinato no restaurante, antecipada na The New Yorker?
McEwan – Os primeiros capítulos eram sobre um homem que revirava sua agenda de endereços, procurando algum conhecido que pudesse ter contatos no mundo do crime, e em seguida saía para comprar uma arma de uns hippies velhos. Àquela altura eu não tinha ideia de por que ele queria uma arma, ou mesmo de quem era ele. Ma sabia que queria uma cena. Uma das poças de que falava Graham Greene. Um primeiro canal que construí a partir dela me levou à cena da tentativa de assassinato no restaurante. Foi assim que Amor para sempre começou, com cenas e sequências aleatórias, tateando no escuro. Queria escrever alguma coisa em tributo à razão. Desde Blake, Keats e Mary Shelley, o impulso racional tem sido associado à falta de amor, a uma frieza destrutiva. Na nossa literatura, os personagens que hesitam em seguir seus corações são sempre aqueles que terminam mal. E, no entanto, nossa capacidade de pensar racionalmente é um aspecto maravilhoso de nossa natureza, e quase sempre tudo que temos para enfrentar o caos social, a injustiça e os piores excessos da convicção religiosa. Ao escrever Amor para sempre, dei uma resposta a um velho amigo que uma vez me disse que Bernard, o racionalista de Cães negros, está sempre em desvantagem no romance. É verdade: interpretação espiritual de June da própria experiência é dominante na metáfora central do livro.

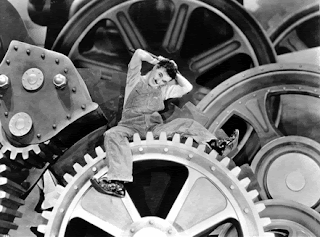
Comentários
Postar um comentário